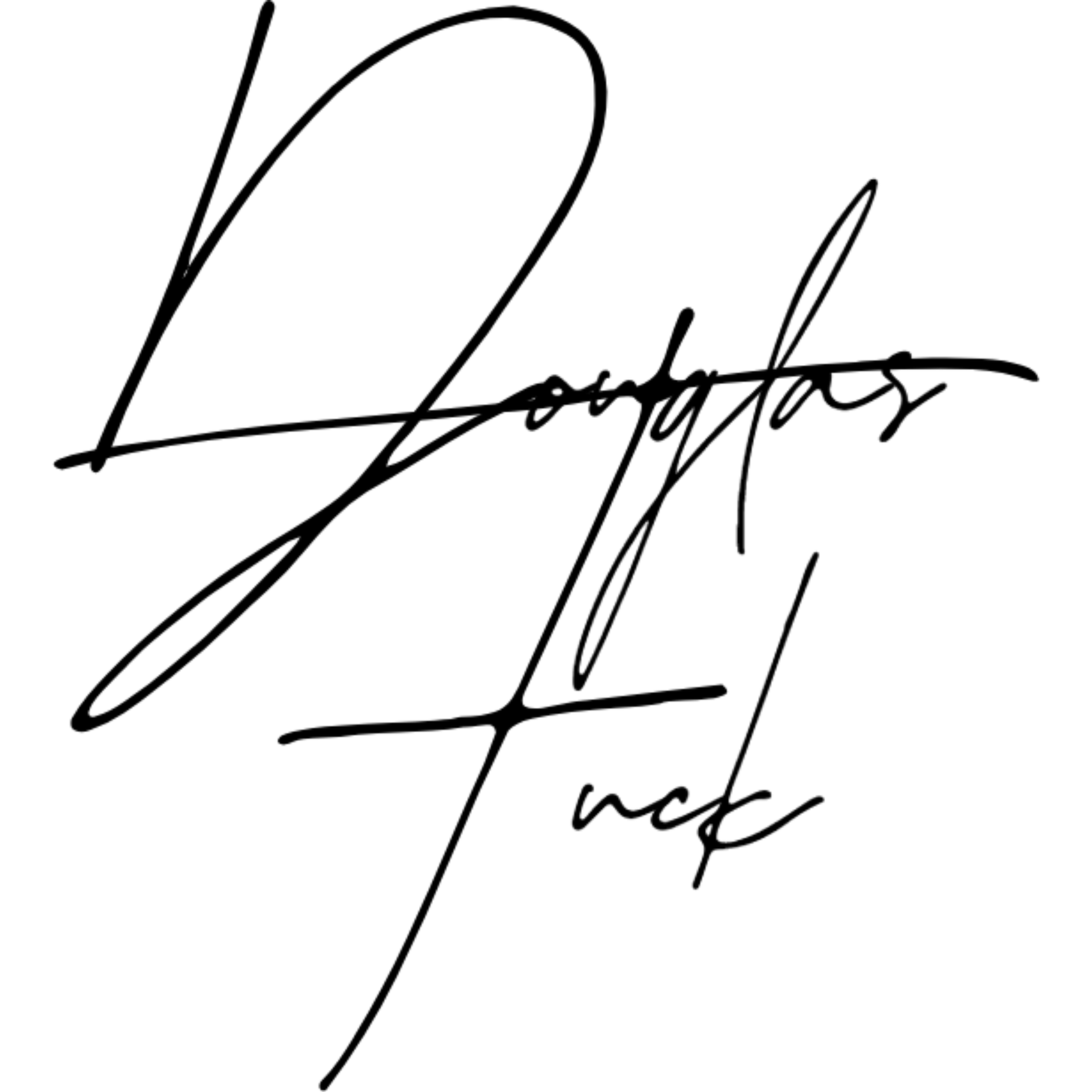“The truth does not change according to our ability to stomach it.”
— Flannery O’Connor, carta a Cecil Dawkins, The Habit of Being (1969).
Fonte: Joshua Shaw, Natural Bridge No.1; View From
The Arc of The Bridge Looking Down The Creek, Rockbridge County, Virginia, 1820.
A lógica dos sinais fracos, parte III e final
Se há um ponto em que a análise de ciclos converge com a reflexão filosófica, é na constatação de que as crises não são apenas eventos econômicos, mas expressões morais. A deterioração lenta, invisível e cumulativa que antecede cada colapso não é apenas consequência de decisões financeiras equivocadas, mas de um desalinhamento mais profundo entre incentivos, caráter e verdade. Em períodos de exuberância prolongada, quando o crédito flui com facilidade, quando o custo do erro parece mínimo, quando a narrativa de prosperidade se torna autossuficiente, as instituições passam a operar em um regime de racionalidade diminuída. E é nesse regime que os sinais fracos se acumulam não como anomalias, mas como sintomas naturais de uma sociedade que já deixou de se perguntar se está olhando a realidade ou apenas acreditando nela.
O ensinamento de Marks, ao revisitar Galbraith e Chancellor, ultrapassa a análise técnica de crédito. Ele revela um padrão antropológico: quando sociedades prosperam por muito tempo, seus mecanismos de vigilância se enfraquecem. Esse enfraquecimento não é apenas cognitivo; é moral. Edmund Burke observou que “a única coisa necessária para o triunfo do mal é que homens bons não façam nada”. Em finanças, esse “não fazer nada” assume a forma de aprovar balanços sem rigor, validar teses sem ceticismo, renovar linhas de crédito sem investigar, aceitar explicações fáceis sem a disciplina de perguntar. A omissão se torna um mecanismo silencioso de destruição de valor.
Esse fenômeno pode ser visto com clareza nos episódios mais marcantes da história recente brasileira. A crise das Americanas não foi apenas um evento contábil ou um choque de governança. Foi a revelação tardia de um ecossistema inteiro que operou por anos de maneira complacente: bancos, auditores, analistas, fornecedores e o próprio mercado acionário acostumaram-se à ideia de que o tamanho e a marca da empresa eram garantias suficientes. Essa lógica é uma forma de delegação moral: em vez de analisar, confia-se; em vez de investigar, supõe-se; em vez de confrontar, aceita-se. O mesmo padrão emergiu na Oi, onde sucessivos aumentos de dívida foram justificados como estratégias de crescimento, enquanto a deterioração estrutural se tornava evidente para qualquer observador não comprometido com a narrativa interna. O caso da Cruzeiro do Sul mostrou que nem sequer números brilhantes sustentam a realidade quando a base é fraudulenta. E nos ciclos dos bancos médios — Econômico, BVA, Panamericano, Santos — a simetria é perfeita: a abundância de liquidez permitiu a suspensão temporária da dúvida, e essa suspensão abriu espaço para práticas que só se tornaram visíveis quando a maré recuou.
Marks chama esse processo de “revelação do que já estava destruído”. A crise não cria o problema; ela o ilumina. A insolvência não surge no colapso; ela é apenas revelada. A deterioração moral e financeira ocorre no silêncio dos tempos bons, e o estouro apenas retira o véu. O bezzle não é um acidente: é uma consequência inevitável de um ambiente que privilegia crescimento a qualquer custo, velocidade sobre profundidade, expansão sobre prudência. E em cada uma dessas épocas, há sempre quem levante a mão para apontar inconsistências, mas essas vozes, por definição, soam deslocadas, pessimistas, anacrônicas. Em um mundo que celebra otimismo como virtude, o ceticismo se torna quase um ato subversivo.
A filosofia registra esse movimento muito antes de ele ser observado pela economia. Hannah Arendt, ao discutir a relação entre verdade e política, notou que sociedades toleram pequenas distorções da realidade quando essas distorções sustentam uma narrativa conveniente. As pessoas se acostumam a viver dentro de um “espaço de plausibilidade”, onde aquilo que não é totalmente verdadeiro tampouco é explicitamente falso. Em mercados financeiros, esse espaço é ainda mais perigoso, porque narrativas plausíveis são, quase sempre, lucrativas. Uma projeção cresce, o valuation se expande, a capacidade de financiamento aumenta, a percepção de risco diminui. Tudo isso cria incentivos naturais para que sinais fracos sejam desconsiderados. A economia não é apenas um sistema de preços; é um sistema de crenças.
A conclusão inevitável é que o papel do investidor sério é, antes de tudo, um papel moral. Não no sentido moralista, mas no sentido epistemológico. Exige a coragem de ver o que os outros preferem ignorar. Exige a disciplina de perguntar quando o ambiente exige silêncio. Exige a disposição de parecer “cético demais”, “lento demais”, “exigente demais”, “conservador demais” porque, nos tempos de bonança, a racionalidade parece sempre prudência em excesso. Marks, como Graham antes dele, insiste que o maior risco de mercado não é o risco de preço, mas o risco de autoengano. E esse risco é quase sempre invisível até o momento em que se torna tardio.
Essa ideia também tem raízes sociológicas profundas. Richard Sennett, ao estudar o colapso da ética do trabalho no capitalismo tardio, observou que ambientes de performance contínua produzem indivíduos ansiosos por evitar conflitos e questionamentos. A harmonia superficial se torna mais valorizada que a interrogação honesta. O mesmo se aplica ao ambiente corporativo financeiro: analistas evitam fricção com empresas; bancos evitam confrontos com clientes; investidores evitam desafiar consensos. Em mercados que premiam o alinhamento à média, o pensamento independente se torna um custo. A consequência final é óbvia: ninguém quer ser o primeiro a dizer que o rei está nu. E por isso, em quase todas as crises, o rei permanece nu por muito mais tempo do que o racional permitiria.
Mas há um outro ponto, mais refinado, que Marks toca de maneira indireta: o tempo. O tempo é o elemento mais negligenciado nas análises de risco. Em bonanças prolongadas, os horizontes se encurtam. A pressão por retorno rápido domina a tomada de decisões. A estrutura mecânica dos fluxos de crédito passa a ser tratada como garantia de continuidade. O que Minsky chamou de “migração do hedge para o especulativo e do especulativo para o Ponzi” ocorre porque o tempo dá a ilusão de estabilidade. O investidor esquece que o crédito é um instrumento de fragilidade intertemporal. O que parece sólido hoje pode se tornar inviável amanhã simplesmente porque o ciclo girou.
Por isso, a leitura dos sinais fracos é, no fim das contas, uma leitura da passagem do tempo. Fraudes, inconsistências e fragilidades não surgem do nada; elas surgem da deterioração gradual produzida pelo excesso de confiança acumulado ao longo dos anos. Quando um mercado amadurece em complacência, os problemas não crescem linearmente — eles crescem silenciosamente. O investidor só os ouvirá quando o ruído se transformar em estalo. E, quando isso acontece, já não há mais espaço para reação.
É por isso que a disciplina intelectual descrita por Marks não é apenas uma técnica, mas uma postura. Exige a capacidade de manter padrões elevados quando o ambiente inteiro pressiona por padrões baixos. Exige a recusa consciente em aceitar explicações convenientes. Exige rigor lógico mesmo quando a lógica parece desnecessária. Exige, acima de tudo, a disposição de sustentar convicções impopulares.
A lógica dos sinais fracos nos ensina, portanto, que o verdadeiro valor está na resistência ao convergente. O risco não surge da diferença; surge da semelhança. Crises acontecem não quando alguns erram, mas quando muitos erram — e quando erram na mesma direção. A normalização da imprudência é sempre mais perigosa do que a imprudência individual. E a única forma de escapar desse movimento é manter a capacidade de enxergar o que é estrutural mesmo quando o ambiente celebra o conjuntural.
É nesse sentido que a função do investidor disciplinado se aproxima da figura clássica do observador trágico descrito por Goethe e retomado por George Steiner. Trata-se daquele que, mesmo diante da festa, percebe a fissura na parede. Não para arruinar o festejo, mas porque sabe que, se ninguém olhar para a fissura, ela se tornará rachadura e, depois, ruína. O investidor sério é aquele que se recusa a dançar quando o chão treme, mesmo que todos ao redor insistam que nada está acontecendo.
A lógica dos sinais fracos, portanto, não é um método de previsão; é um método de vigilância. Seu objetivo não é dizer quando a crise virá, mas impedir que ela surpreenda aqueles que têm o dever de ver. Em um mundo movido por narrativas, o ceticismo é um ato de responsabilidade. Em mercados movidos por euforia, a prudência é um ato de coragem. E, na finança contemporânea, onde a velocidade é confundida com competência, a paciência é, paradoxalmente, uma forma de resistência.
No fim, o recado de Howard Marks ecoa a sabedoria mais antiga da história econômica e moral: os sinais estavam lá. Sempre estiveram. A questão nunca é se eles existem, e sim se alguém está disposto a enxergá-los quando ainda são fracos demais para serem aceitos pela maioria.
Até a próxima,
Aleatórias
“To see what is in front of one’s nose needs a constant struggle.”
— George Orwell, Column in the Tribune (1946).
“Reality is that which, when you stop believing in it, doesn’t go away.”
— Philip K. Dick, How to Build a Universe (1978).
“The line separating good and evil passes not through states, but right through every human heart.”
— Aleksandr Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago (1973).
“Pain is the great teacher of mankind.”
— Marie von Ebner-Eschenbach, Aphorisms (1880).
“There are truths that are not for all men nor for all times.”
— Voltaire, carta a d’Alembert (1761).
“In the end, we are all betrayed by what we refuse to confront.”
— James Baldwin, No Name in the Street (1972).
“If something cannot go on forever, it will stop.”
— Herbert Stein, discurso ao U.S. Congress (1983).
“Every collapse is first a collapse of character.”
— Ralph Waldo Emerson, Essays (1844).
“You can evade reality, but you cannot evade the consequences of evading reality.”
— Ayn Rand, The Virtue of Selfishness (1964).
“Corruption is worse than prostitution: the latter endangers the morals of the individual, the former endangers the morals of the entire country.”
— Karl Kraus, Die Fackel (1914).